Colaboradores nas revisões bibliográficas
-
Rui Alexandre Grácio (Coordenador)
-
Ana Luísa Pereira
Ana Raquel Vinhas
-
António Pernas
Francisco Welligton Barbosa Jr
-
Helena Carlo Gonçalo Ferreira
-
Telmo Alexandre Ferreira
Apresentação do projeto
O presente projeto desenvolve uma linha de investigação crítica no que diz respeito aos múltiplos aspectos e efeitos transformadores, em termos sociais, culturais e humanos, da migração para o digital. Trata-se de produzir, no interior das Humanidades, um conhecimento mais aprofundado e crítico dos temas prementes colocados pela digitalização generalizada a que assistimos e às reconfigurações culturais — com seus desafios e perigos — que originam.
Migração para o digital, cultura do software e inteligência artificial: reconfigurações culturais pela dimensão sociotécnica dos algoritmos.
«(…) a cultura do algoritmo contemporânea transforma a vida em sociedade: o humano vê-se convertido em matéria computável e é crucial reconhecer que, nesse gesto de tradução, o mundo social passa a um estado de representação. Não estamos já em presença da ação ou da comunidade humana per se, mas de uma procuração implícita, através da qual é consentido ao ato computacional o poder de agir em nosso nome e de representar fenómenos sociais por via de fórmulas, de modelos e de dados» (Vicente, 2023, pp. 49-50).
Como observou Diogo Vaz Pinto (2023),
«com o anúncio da generalização dos modelos de inteligência artificial generativa, repetiam-se por todo o lado as promessas ingénuas de que estes modelos poderiam pôr fim à pobreza, ajudar a curar doenças, resolver a crise climática, libertar-nos das tarefas mais entediantes e repetitivas, tornando os nossos empregos mais significativos e estimulantes. Por fim estaria ao nosso alcance um quotidiano livre da dependência assalariada no sentido de reforçar o tempo livre, os períodos de lazer e contemplação, ajudando-nos a recuperar a humanidade que perdemos para a mecanização, e a romper com os ciclos diários repetitivos e que nos levam a ter existências cada vez mais solitárias, ajudando por isso a fazer frente à epidemia de perturbações mentais e a recuperar os laços de solidariedade social. Estes algoritmos iriam também tornar a actividade governamental mais racional e responsável… Estaríamos, assim, em processo de contagem decrescente para sermos todos alvo de uma promoção das condições de vida, passando a habitar um admirável mundo novo».
Ora, com efeito, importa que nos interroguemos em que ponto estamos relativamente à promessa de que a tecnologia iria libertar progressivamente o Homem, diminuindo-lhe os horários de trabalho, aumentando o seu tempo livre e trazendo-lhe uma vida melhor.
Se esta promessa não se concretizou, a ideologia tecnológica não deixou de a alimentar e incrementar com novas expectativas, nomeadamente sob os auspícios das vantagens de uma migração para o digital (designada por Milad Doueihi como «a grande conversão digital»), para um mundo digital no qual estamos cada vez mais imersos e dependentes, como aliás mostra a adição generalizada aos telemóveis.
Daí a pertinência da pergunta: será que o chamado «mundo digital» proporciona mais tempo livre, melhor qualidade de vida, maior libertação do trabalho e mais liberdade? Ou, pelo contrário, será que estamos chegados a um momento em que está a ocorrer uma mudança de paradigma epistemológico, uma viragem pragmática neo-liberal, já não dirigida por perguntas orientadas que visam compreender, mas sim por dados que podem ser rentabilizados? Como ironiza Pierre Mounier (2017, pp. 154-155)
«para o inferno com a psicologia, a economia, a sociologia. Não adianta tentar entender o consumidor; só é preciso “rastrear” as suas ações, calcular correlações e usá-las para fazer uma oferta relevante. (…) não se trata mais de compreender, mas de prever para poder controlar; e desenvolver uma atividade económica frutuosa nesta base firme e pragmática».
Esta orientação, solidária da datificação da vida social e da algocracia (cf. Vicente, 2023) deve colocar-nos questões não só relativas à redução do cidadão a mero utilizador como, também, às transformações sociais e culturais no mundo do trabalho em particular, e no das relações sociais, em geral. A que viragem cultural estamos a assistir?
No sítio da Caja Negra Editora, e a propósito do livro de Sadin, La inteligência artificial o el desafio del siglo. Anatomia de um antihumanismo radical, atribui-se ao autor a hipótese de que
«a causa (e não a consequência) da pregnância do fenómeno da inteligência artificial é uma mudança de estatuto das tecnologias digitais: de serem próteses acumulativas e intelectuais – porque permitem o armazenamento, a indexação e o tráfego rápido de informações – passaram a ser entidades das quais se espera que enunciem uma verdade a partir da interpretação automatizada de situações».
Esta citação está de facto em linha com as afirmações de Yuval Noah Harari, autor do livro Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã, quando, numa conferência, afirma que
«o dataísmo transfere a autoridade de volta para as nuvens, para a nuvem da Google, para a nuvem da Microsoft e o dataísmo diz às pessoas para não darem ouvidos aos seus sentimentos, que ouçam a Google, que ouçam a Amazon, eles sabem como você se sente e sabem também porque se sente assim e, portanto, podem tomar melhores decisões em seu nome».
Temos assim uma viragem para um novo discurso da Verdade, um regime baseado num conhecimento mais eficaz do que aqueles que os humanos conseguem produzir e que tem no seu reverso o apagamento da autonomia deliberativa dos humanos. Nesse sentido, lê-se no referido texto de apresentação da obra:
«sob uma variedade de formas que vão das mais amigáveis (sugestões de compra, de movimentos) às mais coercitivas (classificação e indexação de seres humanos para incluí-los/excluí-los de certos benefícios e direitos), em áreas relacionadas com a vida social em geral (a economia) ou em outras que tangem a intimidade do indivíduo (avaliação médica de seu próprio corpo), a inteligência artificial propõe diagnósticos que são supostamente superiores aos humanos porque se baseiam no manuseio e correlação de dados impossíveis de realizar pelo indivíduo. Assim, graças a esse poder de enunciar uma verdade que os humanos não conseguem perceber, a tecnologia deixa de ser protética para se tornar antropomórfica. A autonomia de decisão dos sistemas de inteligência artificial fecha o círculo dessa mudança radical, confrontando-nos pela primeira vez com o estágio do tecnólogos da técnica: não um logos sobre a técnica produzido pelos humanos, mas humanos modelados por uma técnica capaz de produzir discurso ou verdade. Nesse novo regime, sem possibilidade de réplica, a vocação humana primordial de habitar o mundo está em jogo».
Importa salientar nesta citação a ideia da impossibilidade de réplica, réplica que faz parte da dinâmica da racionalidade e da interação argumentativas, uma vez que o que esta racionalidade algorítmica traz é justamente o apagamento da argumentação enquanto prática ligada à liberdade das comunidades deliberativas, com a sua capacidade de colocar em questão, posicionar-se e procurar negociar as regras do jogo. Esta desvalorização do conversacional e do dialógico, condições da argumentação, acontece em detrimento de uma racionalidade lógico-analítica suprapessoal, ativada por manivelas computacionais que estão para além daquilo que é humanamente possível sem o auxílio da uma inteligência maquinada por processamento.
Ora, atendendo que todo o processo de migração para o digital e de datificação são postos ao serviço da rentabilidade, notaram Couldry e Mejias (2019, p. 168) que «a própria autonomia está a ser reconfigurada pelas práticas capitalistas», visão coincidente com a de Antoinette Rouvroy (2020, p. 19) quando assinala que «uso dos algoritmos para decisões, nesse sentido, pode parecer tentador para os agentes que desejam diminuir o risco inerente à "decisão". O uso dos algoritmos para decisões também atesta uma saída da era da crítica, na qual a crítica era entendida como a prática ou a virtude de questionar e desafiar a construção social de categorias por meio das quais estamos predispostos a perceber, avaliar e julgar o mundo e seus habitantes».
Dentro deste quadro geral, coloca-se também a questão das humanidades digitais, com todas as ambiguidades que esta designação comporta e, também, quanto a uma posição crítica que sobre elas importa ter.
Parece ser hoje incontornável pensar as humanidades digitais dentro de um contexto de irreversibilidade dos avanços tecnológicos e do desenvolvimento da IA e, ao mesmo tempo, desenvolver uma visão crítica que questione a racionalidade tecno-instrumental e as suas consequências culturais e políticas, mais ainda quando se assiste a uma plataformização generalizada da sociedade e a uma profunda reconfiguração da cultura e das práticas culturais.
O presente projeto desenvolve uma linha de investigação crítica no que diz respeito aos múltiplos aspetos e efeitos transformadores, em termos sociais, culturais e humanos, da migração para o digital. Trata-se de produzir, no interior das Humanidades, um conhecimento mais aprofundado e crítico dos temas prementes colocados pela digitalização generalizada a que assistimos e às reconfigurações culturais — com seus desafios e perigos — que originam.
Referências bibliográficas
- Conferência de Yuval Noah Harari, em https://www.youtube.com/watch?v=Hw2jBiqZ4N8 O vídeo foi gravado em 27/2/2017.
- Couldry, Nick; Mejias, Ulises Ali (2019). The costs of connection : how data is colonizing human life and appropriating it for capitalism. Stanford University Press
Rouvroy, A., Entrevista com Antoinette Rouvroy: Governamentalidade Algorítmica e a Morte da Política. Revista de Filosofia Moderna e Contemporânea, Brasília, v.8, n.3, dez. 2020.
- Mounier, P. (2017). Les Humanités numériques, gadget ou progrès : Enquête sur une guerre souterraine au sein de la recherche. Revue du Crieur, 7, 144-159. https://doi.org/10.3917/crieu.007.0144
- Pinto, Diogo Vaz (2023). A inteligência artificial e os órfãos de um significado do mundo. Jornal i de 12-11-2023. https://ionline.sapo.pt/artigo/808205/a-intelig-ncia-artificial-e-os-orfaos-de-um-significado-do-mundo?seccao=Mais_i
- Sítio da Caja Negra Editora: https://cajanegraeditora.com.ar/libros/la-inteligencia-artificial-o-el-desafio-del-siglo-eric-sadin/
- Vicente, P. (2023). Os algoritmos e nós. Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Rui Alexandre Grácio [2024]
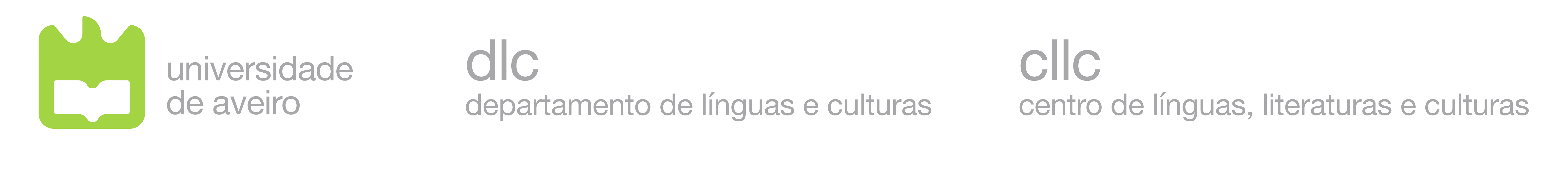
Última atualização em 10 de novembro de 2025