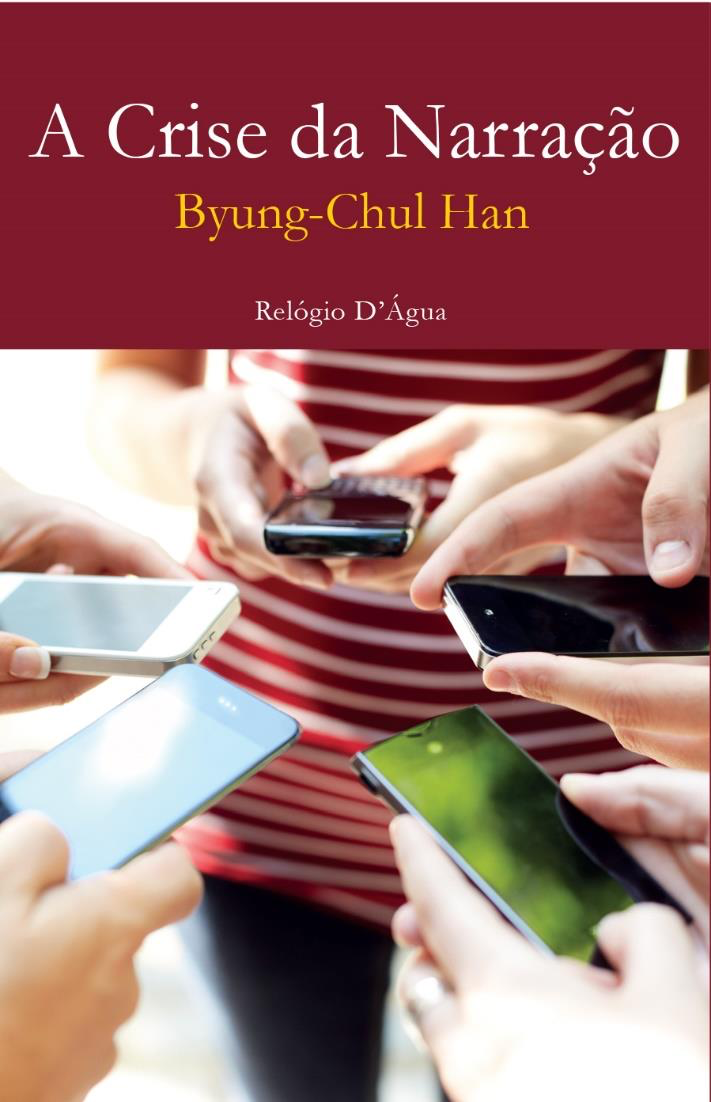
Han, B.-C. (2024). A crise da narração. Relógio D’Água Editores.
Recensão
Ana Luisa Pereira [2024]
O fim da sua História foi vaticinado por Fukuyama, mas o da narrativa há muito que foi percebido por Walter Benjamin – uma das referências de Byung-Chul Han (doravante, BCH). É com Benjamin que BCH se detém mais para nos lembrar ou mostrar a diferença entre o contador de histórias de outrora e a emergência de alguns géneros literários, como o romance introspetivo. Já nas décadas de 1930-40 a imprensa dava sinais de poder destruir a capacidade de recordar e a arte de contar. Com a imprensa ao serviço da difusão da informação, Benjamin anunciava o que hoje dá título ao livro em análise. A informação e a velocidade a que circula, com a novidade constante que lhe está inerente, são inimigos da narrativa, a qual implica tempo para ser apreendida, escutada, lida e percebida para, então, ser recordada e resgatada. Como defende o autor, “a narração e a informação são forças antagónicas. A informação intensifica a experiência contingente, enquanto a narração a reduz” (pp. 13-14) . BCH parte do argumento de Niklas Luhmann para mostrar que a informação é contrária ao ser, pela ausência ontológica inerente à sua contingência.
A forma como o “tsunami informativo” nos assola conduz a uma fragmentação do tempo, avessa à continuidade que caracteriza a história, num tempo continuado e ligado com sentido – a narrativa. A informatização da sociedade terá dissolvido o fio narrativo da existência, gerando uma desorientação que se vai acentuando de forma exponencial com a pobreza da experiência proporcionada pelas plataformas sociais. Assim, a intensidade da informação e a perda da experiência autêntica, desencadeada pela superficialidade das interações nas redes sociais, são, para BCH, os grandes motores d’ “A Crise da Narração”. O vazio narrativo decorrente destas e de outras transformações sociais, inerentes às sociedades de consumo (resultantes do capitalismo), deram origem a novos conceitos e práticas, como o storytelling – a forma pela qual o capitalismo se terá apropriado da narrativa.
Na perspetiva do filósofo, essa prática é uma substituição pornográfica – porque nua da narrativa, cujo objetivo está longe de conferir o sentido à existência que se perdeu, sobretudo, pela falta de referências superiores que o processo de secularização desencadeou. O seu propósito, é sabido, é induzir ao consumo. Já não tanto de coisas – como, aliás, o autor descreve em “Não-coisas” –, mas de experiências. “Os produtos prometem experiências extraordinárias” (p. 3). Mais do que storytelling, essas práticas ‘narrativas’ são storyselling o modo como “compramos, vendemos e consumimos narrativas e emoções” (p. 13). Mediante o storytelling, os produtos ficam carregados de emoções e instigam ao consumo de experiências especiais e personalizadas – que, além de providenciarem sensações inigualáveis, concorrem para a construção de um self distintivo. Esta ideia já havia sido explorada pelo autor no livro mencionado, a propósito da substituição das coisas pelas experiências. As “informações distintivas” tornam-se mais importantes que o ‘artigo cósico’ . Daí a necessidade de construir uma narrativa – storytelling – em torno de um produto ou experiência, para criar valor, diferenciando-a de todas as outras e distinguindo um self de todos os outros – storyselling.
Para o autor, não é pelo storytelling – para si, um fenómeno patológico – que se recuperará o sentido do ser e uma reorientação na ‘sociedade da informação’. A crise narrativa vem de longe; este ensaio discorre acerca dos seus antecedentes. Para o efeito, BCH dividiu o livro em dez capítulos, sendo o primeiro “Da narração à informação”. Recorrendo ao trabalho de Walter Benjamin, em particular “O contador de histórias”, BCH advoga que a origem da crise da narrativa dos tempos modernos se deve ao “facto de o mundo estar inundado de informação” (p. 19). O declínio da arte de contar foi ocorrendo pela profusão contínua da informação.
O narrador/contador de histórias, continua Han, não informa nem explica. Pelo contrário, a informação elimina todos os acontecimentos que não têm explicação ou não podem ser explicados, mas narrados. Para ilustrar o seu argumento, BCH apresenta a história de Psaménite contada por Benjamin, cuja ausência de explicações lhe confere um carácter enigmático que perdura até hoje. A perenidade da narrativa sustém e dá sentido ao ser humano. A sua temporalidade não se esgota. Contrariamente, a informação esvanece-se no momento imediatamente após ser conhecida.
Numa ligação com o passado, poderíamos aprender por intermédio das histórias contadas geração após geração e alcançar uma possibilidade de futuro imbuído de esperança. O que significa que a narração se alimenta da experiência. Uma riqueza capaz de fornecer orientação. Para que tal suceda, é necessário, porém, um coadjuvante à arte de narrar: a arte de escutar. O que exige uma atenção especial – algo cada vez mais difícil com a abundância de estímulos, inicialmente, fornecida pela enxurrada de informação, hoje, alimentada por muitos outros, advindos das plataformas sociais e dispositivos eletrónicos.
Atualmente, a informação ultrapassou a função que Benjamin discutiu. Como refere Han, tudo é informação, inclusivamente a realidade que, com a digitalização, se transformou em dados. A velocidade deste processo é tão alucinante que a informação se converteu “numa nova forma de ser e até numa nova forma de poder” (p. 23).
Os capítulos que se seguem procuram demonstrar que o fim da narrativa está, também, intimamente relacionado com a perda da narração, a oral, da qual a sabedoria provém. Nada perdura. “A pobreza da experiência” (segundo capítulo) é tão evidente que se tornou inenarrável. A forma como tudo se partilha nas redes e plataformas sociais transforma as ‘vidas’ em dados que se extraem e convertem em números: tudo se mede nesta sociedade transparente, onde o panóptico de Bentham já não é imposto, antes autoinfligido pelo uso das tecnologias. Daí que o argumento deste capítulo seja o de vivermos n’ “A sociedade da transparência” que anuncia a morte da narração e da rememoração.
Nos dois capítulos seguintes, “A vida narrada” e “A vida nua e crua”, Han disserta sobre o tempo enquanto coordenada antropológica – a temporalidade (ontológica) edificadora do ser. Recorrendo a Heidegger, Han coloca a narrativa como “verdadeira historicidade”. Contudo, a digitalização fragmenta a nossa atenção e arranca-nos ainda mais do “ancoradouro temporal, garante da nossa estabilidade” (p. 34). A recordação, imprescindível à narrativa, desaparece, tal é a velocidade da informação e respetivas notificações sempre a assinalarem mais uma novidade, mais uma informação, mais um lembrete, mais um like.... Resta-nos quantificar os fragmentos que não são suficientes para formar sequer um mosaico.
De facto, “o ruído comunicativo e informativo cala o vazio inquietante da vida” (p. 45). E, se houve quem pudesse “viver para contá-la” , na era digital, a crise está em ter de escolher “entre viver ou publicar” (p. 45). Não é estranho, por isso, que se observe um “desencantamento do mundo” (título do quinto capítulo) resultante da perda da magia. A causalidade ganhou, mas é “mecânica e exógena”, ao passo que as relações imbuídas de magia nos enredam na “sequência de uma profunda simpatia estabelecida entre as pessoas e as coisas” (p. 52).
A perda da aura do mundo é uma das manifestações do seu desencantamento, como que se perdeu o véu misterioso que cobre as coisas do mundo. Já n’ “A sociedade da Transparência” Han socorreu-se de Walter Benjamin para defender que para haver “beleza é inevitável uma conjunção indissolúvel entre encobrimento e encoberto”, sendo no “mistério que está o fundamento divino do ser da beleza”. Também a narrativa pressupõe mistério e encantamento. Mas o mundo está a ficar totalmente transparente, ao ponto de o autor afirmar que só a cegueira nos pode reconduzir à narração. É no “sonho” de Paul Virilio, de todos ficarmos cegos numa sociedade totalmente transparente, que Han encontra elementos para nos “salvar do inferno da transparência” (p. 57).
Inferno é o que o like tem instaurado desde que, em 2003, Mark Zuckerberg e três amigos criaram o Facebook. O capítulo “Do choque ao like” reflete sobre a perda da alteridade do outro que se torna num produto consumível. Se o outro era um inferno (Sartre), com as redes sociais a sua expulsão ocorre de forma automática. No neonarcisismo só há espaço para a imagem especular do ‘ego’. Como escreve Han, “graças ao smartphone, permanecemos nesse estádio especular imaginário que preserva o ego imaginário” (p. 63). Com o mundo digital em crescente expansão, o mundo real (?) tem perdido o seu encanto, ao ponto de não reconhecermos (ou não querermos reconhecer) a diferença entre o real e o imaginário. O ‘simbólico’ da tríade de Lacan (real e o imaginário – as outras unidades) desaparece, conduzindo à derradeira erosão da comunidade.
Onde nos levará o fim da comunidade? É uma das questões que emerge desta reflexão de Han. Se foi o grupo transformado em comunidade, alimentada pelas narrativas agregadoras e consolidadas nos ritos e rituais (o simbólico), que nos tornou humanos, que futuro terão as gerações vindouras?
Han concede-nos alguma esperança revitalizadora ao destacar o poder intrínseco das narrativas, elevando a “Narração como cura” (o capítulo que se segue à “Teria da narração”). O ato de escutar – centrado no outro, inspirando-o a narrar – é, no limite, uma demonstração do amor. Mas para que uma história seja passível de ser contada, é preciso que alguém esteja recetivo para a ouvir. Mas já não sabemos escutar. Desejamos ser olhados, admirados pelas stories que postamos nas redes sociais, para nos publicitar e assim nos vendermos ao outro, de quem apenas queremos captar um olhar que resulte, pelo menos, num like. Um olhar fugaz pela retina passam centenas ou milhares de imagens (informação) diariamente que se esquecem, ou melhor não se retêm mais do que alguns segundos. As ligações são, por isso, impossíveis de se estabelecerem. Como lembra Han, “estar conectado não significa estar vinculado” (p. 76). Pelo contrário.
Com “Comunidade narrativa” (penúltimo capítulo), Han traz a ideia de que as narrativas criam coesão social. Não as narrativas que reforçam ideologias neoliberais ou que servem de base aos regimes – a propaganda discutida por Noam Chomsky. Han reporta-se às narrativas que permitem ligar e religar (no sentido da religião) as comunidades, sendo disso exemplo os mitos fundadores – que quase se perderam com o Iluminismo (e consequente secularização). Mantendo a esperança, Han recupera a grande narrativa de Kant – a da cidadania universal – enformada pela ideia (utópica, diria) de uma hospitalidade ilimitada.
O pessimismo reaparece ao evocar que a comunidade ontológica e humanizadora requer um ‘nós’ com força política necessária para (re)edificar “A Paz perpétua” de Kant, ou uma “cidadania universal”. As narrativas foram apropriadas pelo capitalismo. O storytelling vende histórias indutoras do consumo e não criadoras de hospitalidade – o ego expulsou o outro. O objetivo é consumir, é vender, por isso, as histórias, as stories, as pseudo-narrativas são antes storyselling, tendo eliminado as coordenadas antropológicas que nos orientavam. Deixou de haver tempo e espaço para a reflexão (crítica) e para a contemplação. Eu sou, logo consumo ou talvez seja: eu consumo, logo estou. Será que esta crise é derradeira?
“A crise da narração” é, parece-me, um contributo profícuo para a reflexão sobre a perda que Benjamin se referia nas décadas de 1930-40. Sem capacidade para reter o que nos acontece e para aprender com isso, como poderemos, nós humanos, vislumbrar o futuro com otimismo, esperança – algo que se sente igualmente em crise?
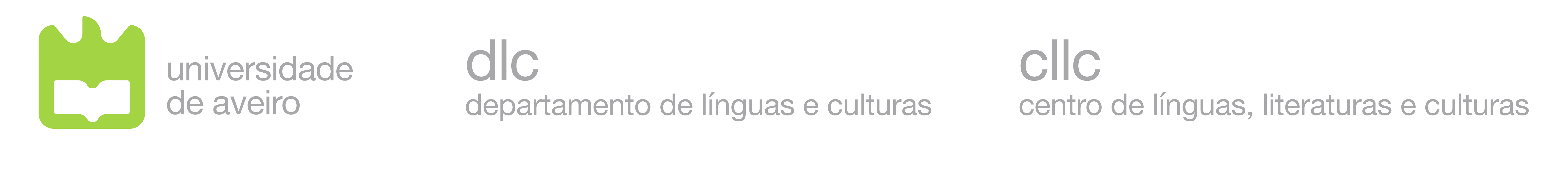
Última atualização em 30 de novembro de 2025