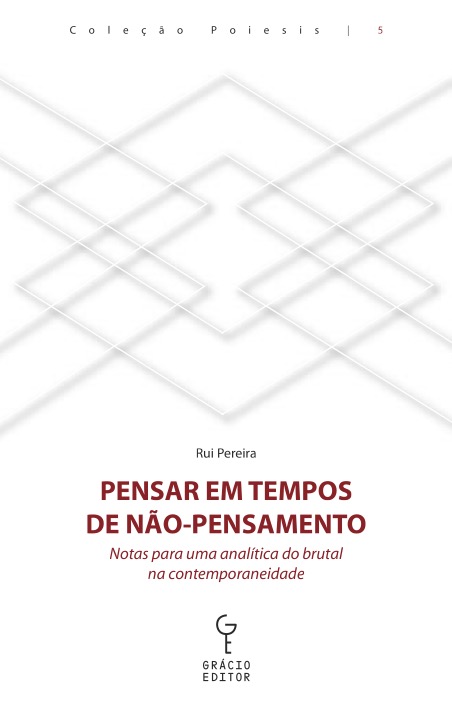
Pereira, R. (2019). Pensar em tempos de não pensamento. Notas para uma analítica do brutal na contemporaneidade. Grácio Editor
Recensão
Rui Alexandre Grácio [2025]
Ocaso do pensamento na sociedade contemporânea
Em torno do livro Pensar em tempos de não-pensamento. Notas para uma analítica do brutal na contemporaneidade, de Rui Pereira
Por vezes impõe-se levar a cabo o exercício de organizar um conjunto de incredulidades existenciais cuja acumulação — caso não procuremos lançar sobre isso alguma inteligibilidade — se constitui como uma força de não-pensamento que tende a diluir-nos na impotência.
É esse, de um modo global, o exercício desenvolvido em Pensar em tempos de não-pensamento (livro originado numa série de conferências realizadas na Biblioteca Pública de Gondomar, em 2018 e publicado por Grácio Editor em 2019), no qual Rui Pereira procura caracterizar os tempos e o mundo em que vivemos, deslindar a sua gramática, mapear mecanismos e consequências das transformações que a eles conduziram e, praticando a reflexão crítica, convidar os leitores a confrontarem-se com a ideia de que vivemos em tempos de não-pensamento.
As etapas do percurso através do qual o autor argumenta a tese do ocaso de pensamento na sociedade contemporânea, antecedidas por uma apresentação e procedidas por uma síntese, são cinco.
A primeira parte intitula-se «A coisa» e nela é apresentada a tese já referida, afirmada aliás a contracorrente das propaladas ideias segundo as quais vivemos numa evoluída sociedade de informação e de conhecimento. Com efeito, a epígrafe de Edgar Morin, ponderadamente escolhida para abrir esta primeira parte, utiliza a expressão «novo obscurantismo» e reflete bem o tom crítico e reticente com que é encarado o truísmo da sociedade de informação e de conhecimento.
A segunda parte intitula-se «Fundações» e versa sobre o avanço da ideologia da sociedade industrial e sobre a instalação do mercado como critério hegemónico e fator de unidimensionalização do humano.
A terceira parte intitula-se «Casa das máquinas» e, como o nome indica, aí se abordam os mecanismos diversos que moldam as práticas sociais e dão forma à sociedade atual.
A quarta parte intitula-se «Gramática» e debruça-se sobre as regras das formações ideológico-discursivas que operam na configuração dos regimes de alienação e de não-pensamento.
Por fim, a última parte intitula-se «Pensar» e a epígrafe que a anuncia, de Alastair MacIntyre, é esclarecedora: «O que nos oprime não é o poder, mas a impotência». Nesta parte vislumbra-se a confluência entre o esvaziamento do pensar e a decadência da dimensão ética na consideração das coisas humanas. Com efeito, na perspetiva de Rui Pereira, o não-pensamento e o embrutecimento do humano estão estreitamente ligados à desvalorização, e mesmo à expulsão, das considerações éticas das cogitações humanas. A adiaforização da ética ou a des-eticalização do pensamento andam a par do caráter unidimensional da racionalidade instrumental e da «ideologia de linha branca» veiculada pelo capitalismo liberal.
Referidas de uma forma sintética as etapas deste livro, mais do que expô-las em detalhe, optarei agora por fazer algumas reflexões, pensando com, e partir, do que o Rui Pereira escreveu, ou seja, preferirei explorar as afinidades que encontrei e dar vazão ao empolgamento contaminante que a leitura deste livro me proporcionou.
O não-pensamento que caracteriza a sociedade contemporânea (e cuja compreensão emparelha, na presente obra, com o esforço de delinear uma analítica do brutal) deve ser considerado, por um lado, como algo que deriva de metamorfoses sistémicas que estão na base da sociedade contemporânea e, por outro, de uma crescente incomensurabilidade entre prática e teoria, ação e pensamento reflexivo, modos de vida práticos e princípios e valores reguladores, sendo que são a teoria, o pensamento reflexivo e os princípios e valores reguladores que vão enfraquecendo num misto de paralisia, anestesia e disfuncionalidade.
Com efeito, nos tempos atuais os requisitos do pensar meditativo vão sendo diluídos por fatores como:
– a aceleração imersiva dos ritmos mundanos e a mobilização constante que eles impõem;
– a avalanche da informação e a atrofia da memória;
– a migração para o digital e o refúgio num mundo dito «virtual»;
– a espetacularização mediática do que quer que seja e a mediocracia;
– o agorismo;
– o consumismo;
– a organização fragmentada, anonimizante e vertical das instituições em detrimento da participação comunitária;
– o individualismo;
– a tecnologia e o fascínio pelos meios como fins em si mesmos;
– a omnipresente invasividade publicitária com a correlativa rendição do humano a uma condição de comerciante;
– a desmultiplicação constante num caldo de possibilidades infinitas do qual a contradição, bem como a distinção entre o essencial e o supérfluo, se parece ter ausentado;
– o silenciado medo da solidão e da morte que atravessa a submissão resignada ao mundo do trabalho penoso;
– enfim, toda uma falta de sentido afogada em distrações de aparência feliz, num irrelevante efémero travestido de esplendor, numa ânsia de obter respostas sem ter de padecer o ato de perguntar e de questionar.
O tempo do ócio (do ócio criador, terreno para movimentos de apropriação e de interrogação) tornou-se insuportável, os ecrãs em que mergulhamos repetidamente a atenção são refúgio para o horror do vazio, o espaço do não-saber tornou-se odiosamente incómodo. O conhecimento substituiu-se às incógnitas, aos questionamentos reflexivos e à consideração dos limites que o saber implica e tem de contemplar se, mais do que conhecimento e informação especializada, quiser ser também sabedoria ligada às questões do sentido da vida e da orientação existencial.
É importante salientar que, no conceito de liberdade (fermento do pensamento), se dissociaram atualmente dois elementos sem a conjunção dos quais a liberdade passa a ser mais um nome do que uma força. Refiro-me às noções de escolha e de criação. Quando à liberdade é retirada a possibilidade da cada um poder criar hipóteses que não as alternativas apresentadas para escolha, acabamos por desligar a noção de liberdade da de autonomia e substituímos a noção de responsabilidade pela de sujeição cúmplice, tão presente no vulgarizado oráculo segundo o qual «temos de nos adaptar». Com efeito, ao reduzirmos a questão da liberdade à questão da escolha, abrimos para uma conceção instrumental que gradua entre pior e melhor— como aliás o faz qualquer consumidor comum na escolha de um produto — e relegamos sempre para depois a consideração de valores, exigências utópicas e responsabilidades últimas em detrimento de critérios apenas assentes na comparação útil e em finalidades imediatas e pragmáticas.
A diluição em critérios meramente comparativistas torna ociosa a questão dos princípios, ou seja, faz desaparecer a idealização axiológica do dever ser que pulsa na dimensão ética do pensar (e que contribui decisivamente para que alguém seja mais do que uma entidade de arrasto). A ética torna-se coisa de perdedores e de inadaptados ao mundo real, um mundo em que a função vinculativa da linguagem (aquela que fomenta a vida comunitária pela geração de laços de confiança) vai esmorecendo e, com ela, a responsabilidade do falar, do dizer, do prometer e, consequentemente, do comprometer-se.
Escreveu Zygmunt Bauman em Modernidade e Ambivalência que «o farfalhar de palavras secas, sem seiva, nos recorda incessantemente e de forma intrusiva o vazio que está hoje onde antes estava a esperança». Rui Pereira fala também do discurso vazio como a formação discursiva que rege os nossos tempos, tempos em que o direito à opinião se sobrepôs à questão da qualidade das opiniões e, mais ainda, à arte do diálogo implicada na interação argumentativa.
A deterioração da racionalidade argumentativa está associada a vários fenómenos: por um lado, à crescente indisponibilidade para ouvir e para corresponder a partir da escuta; por outro, à exaltação do competitivo relativamente ao cooperativo; por outro, ainda, à inflação da expressividade comunicativa e opinativa (o importante é expressar uma opinião e mostrar que se tem opinião, e não aferi-la, sujeitando-a a discussão); por fim, à diluição da noção de razão numa equivalência opinativa de direito que clama pelo respeito universal por qualquer opinião sem considerar o grau de sustento cognitivo que a acompanha, o que leva a que invariavelmente haja confrontação de pessoas em vez de discussão de assuntos, com o correlativo descrédito da inteligência e da prudência.
A tudo isto acresce que a educação se tornou cada vez mais um adestramento para a produção e não algo de potenciador do desenvolvimento integral do indivíduo e centrado em aprender a tornar-se melhor, mais solidário e mais emancipado.
Fruto de uma vontade de poder e de controlo, de uma vontade enraizada em medos ancestrais e projetada num ideal de dominação da natureza (conducente, afinal, à predação da natureza), a matriz epistemológica da nossa civilização avançou na captura da realidade pela via da mensuração e do tratamento matemático da informação, originando não só uma quantofrenia generalizada como, também, uma crescente subordinação a ditames algorítmicos.
Passámos a alimentar-nos na manjedoura «internética», somos subjugados pela comunicação unilateral dos cabrestos informáticos — vulgarizados com o nome amigável de «plataformas» (que proliferam onde se torna necessário organizar o que quer que seja de um modo supostamente impessoal e eficaz) — e substituímos as mediações baseadas na empatia e na solicitude por formulários sem rosto nem interlocução ou por redes de comunicação à distância. Da mesma forma que na produção e na organização do trabalho a tendência é reduzir ou tornar residual o humano, também hoje o mesmo acontece com a progressiva, e sempre realizada de forma ambígua e sob a bandeira do progresso, desumanização das relações humanas.
O mundo, capturado pela medida e pelo número enquanto critérios de objetivação, ampliou-se para esferas micro e macro, inacessíveis sem próteses tecnológicas, sirvam estas alcançar o que de outro modo seria invisível ou para processar dados e informação. Seja como for, esta expansão criou uma desproporção relativamente às capacidades naturais dos indivíduos da espécie humana. Com efeito, a massificação e o primado do quantitativo produziu uma desproporção só gerível por próteses tecnológicas e processamento computacional, configurando uma ordem pós-humana que subordina os indivíduos (agora chamados «utilizadores») à funcionalidade de sistemas anónimos e os confina a um estado de ignorância perpétua explorada pelos comerciantes de alta patente dos nossos dias: os especialistas. Sobre isto escreveu Zygmunt Bauman, na obra já citada: «os serviços especializados oferecidos diretamente ou embutidos em bens de consumo figuram no mundo moderno primariamente como mercadorias; ao mesmo tempo que servem às necessidades do consumidor, também trazem lucros para os agentes que os comercializam», acrescentando que «a competência especializada promete aos indivíduos os meios e técnicas para escapar da incerteza e ambivalência e assim controlar suas próprias vidas. Ela apresenta a dependência face aos especialistas como uma libertação do indivíduo, a heteronomia como autonomia».
A fórmula é antiga: o enfraquecimento e a indigência controlados, a par da indústria do medo que coloca a existência sob alarme perpétuo, geram dependência e propiciam a servidão voluntária e o consentimento na manipulação. No mundo atual, no qual o conhecimento foi capturado pelo mercado e a realidade parece ser cada vez mais significada através do recurso ao valor simbólico acrescentado, assistimos a uma incursão que deixa os indivíduos simultaneamente mais livres, mais inofensivos e mais impotentes.
A terminologia da formação discursiva de que o pensamento mundano se torna ventríloquo é significativa — flexibilidade, mudança constante, imprevisibilidade, desmultiplicação de possibilidades, produtividade, plasticidade — enfim, tudo é work in progress, fluido, reversível, mutante, passageiro, líquido. E, certamente, nada é só uma coisa. Tudo pode ser visto de várias perspetivas sem que entre elas haja necessariamente contradição. Enfim, tudo é ou pode ser — como diariamente nos ensina a publicidade — n em 1. Todos saímos a ganhar no modelo win-win do expansionismo consumista!
E, no entanto, tudo isto a custo de fazermos do futuro o caixote do lixo do presente, de hipotecarmos a esperança e de mortificarmos modos de vida através, entre muitas outras coisas, da precarização laboral, da privatização da existência, do recurso constante a simulacros (com a progressiva substituição de laços por conexões em redes ditas «sociais» e de acessos assistidos tecnologicamente e geridos por empresas privadas), da busca do prazer através de sensações planeadas e da crescente exposição à tirania do entretenimento. Por outro lado, a omnipresença da lógica do mercado torna a publicidade num género educador que forma mentalidades, promovendo a normalização do negócio da captura da atenção e, simultaneamente, operando a conversão do humano em produto sujeito às leis da oferta e da procura.
Rui Pereira insiste no seu livro em referir que hoje se instaurou o primado da irrelevância e do fait divers. Com efeito, num ambiente mental fragmentado e regido pelas ideias de que tudo é possível, de que tudo está em constante mudança e de que tudo tem um curto prazo de validade (com relógios a fazerem contagem decrescente), os projetos de vida e de longo prazo cedem a uma dinâmica apostada em aproveitar oportunidades, como aliás bem espelha a atual forma de promover vendas com descontos em permanência e com arredondamentos ridículos e, todavia, eficazes quando a eles se lhes junta a vontade de comprar do consumidor.
Em suma, e retomando as palavras de Walter Benjamin, Rui Pereira constata que na base do atual estado de não-pensamento está todo um empobrecimento da experiência a que corresponde, na realidade, uma expropriação do horizonte interrogativo com que se inicia qualquer caminho de reflexão. Com efeito, com a ausência de esperança, de promessa e de potência transformadora, a fuga para uma vida constantemente fora de si tornou-se o mais procurado lugar de conforto e de resignação, um lugar onde se está sempre de passagem, numa espécie de turismo existencial em permanência, sem vínculos profundos e o mais possível livre de ónus e de confrontos e reflexões complicadas. Eis a resposta que, misturando impotência e indiferença, promove o ocaso do pensamento e cria uma couraça contra uma brutalidade cujo excesso conduz a um «não querer saber». Em suma, as condições requeridas para pensar — segundo Rui Pereira: tempo, ideia e sentimento — parecem ter-se ausentado da nossa existência.
Vem aliás de longe a tendência para encarar o pensar filosófico como algo de inútil e o positivismo traçou-lhe mesmo o destino dizendo que os avanços do conhecimento científico o tornariam residual e em vias de extinção. Embora o catecismo positivista tivesse sido alvo de muitas críticas, a profecia da sua ideologia concretizou-se numa sociedade que acumulou dispositivos de desvalorização e impossibilitação do pensamento reflexivo e crítico. Da possibilidade da colocação de questões e do exercício do questionamento passámos rapidamente a um regime de perguntas feitas para terem respostas e, em seguida, a exigir respostas sem ter que perguntar para, finalmente, nos limitarmos a selecionar entre respostas já dadas.
Ora, é para este estado de ventriloquismo intelectual, para esta incapacidade de resistir e de fender o muro do já-dito, do já-pensado, do já-feito e da sinonímia «tudo = nada» pela qual se pautam os tempos em que nos é dado viver, é para tudo isso que Rui Pereira chama a atenção neste livro.
É que, direi para concluir, a parte autodidata de cada conquista — aquela que ninguém pode fazer por nós, aquela que deixa marcas inscritas, vincula ao sentido e nos coloca em sentinela — é requerida para reforçar a significação das aprendizagens e a esperança no poder libertador e transformador de um agir que pensa e de um pensamento que age.
Em suma, resta a tarefa de pensar, tarefa que consiste antes de mais em assumir o papel de guardião dessa possibilidade, ou seja, em mantê-la em aberto, em dimensionar todo o saber com a proporção do interrogativo, de interrogações que, pairando com a sua inquietação, impedem o apagamento da atitude vigilante e curiosa.
O presente livro, instrutivo a todos os níveis, é justamente uma provocação destinada a atear a chama do pensamento, a envolver os leitores e a contagiá-los para que também eles possam embarcar na aventura de um perceber outro; e é também, sem dúvida, uma forma despojada de procurar fazer comunidade, uma comunidade sem o reforço da qual não resistiremos ao sequestro que quotidianamente nos atinge, uma comunidade sem a qual nunca passaremos de palradores e meros espectadores do nosso próprio destino.
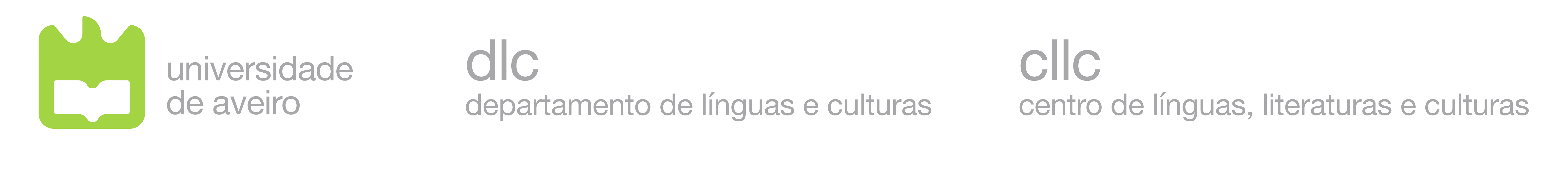
Última atualização em 30 de novembro de 2025